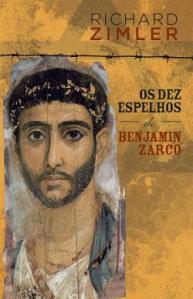Dos Vencidos da Vida
De modo que a minha vida não é boa nem má: corro para a frente e para trás, ao longo do quintal e a toda a extensão do meu arame.
João de Melo,
As Coisas da Alma e Outras Histórias em Conto
Vamberto Freitas
Não pretendo enumerar aqui a vasta obra de João de Melo, apenas mencionar alguns dos livros que mais me marcaram desde o início da sua carreira: O Meu Mundo Não É Deste Reino, Gente Feliz com Lágrimas, Lugar Caído no Crepúsculo, Os Navios da Noite, Dicionário de Paixões, O Mar de Madrid e Autópsia de Um Mar de Ruínas, este o seu conhecido e notável romance sobre a guerra colonial em Angola. De fora fica vária outra ficção, também marcante, bem como o seu belo livro de viagens Açores, O Segredo das Ilhas, ensaios literários e a poesia de Navegação da Terra. Menciono estes títulos porque corre neles toda uma temática consistente, seja em romances de grande fôlego, seja nestes contos de As Coisas da Alma e Outras Histórias em Conto, cuja 3ª edição acaba de ser publicada. A 1ª edição saiu na Dom Quixote em 2004, e a 2ª no Círculo de Leitores em 2006.
Vem escrito em nota de abertura que o autor retrabalhou a sua linguagem (sem contudo mudar as ficções originais) e que acrescentou ao volume três contos inéditos. Como esta é a minha primeira leitura, fiz questão de ignorar e não distinguir entre a os textos iniciais e os agora incluídos como acrescento à edição. O que pretendo fazer é simplesmente uma leitura sequencial e julgar sobre a coerência e a solidez da obra. Na verdade, trata-se de uma narrativa unificada, como já disse, pela sua temática e pela escrita, ou seja, histórias de vencidos da sociedade em várias geografias e tempos. Aliás, nunca João de Melo deixou de intercalar a vida das suas personagens por uma distribuição entre Lisboa e Açores, África e Europa.
Talvez por um certo complexo de inferioridade, alguns outros escritores açorianos, mesmo residindo no continente português a maior parte das suas vidas, parecem não conseguir dissipar esse facto na sua pulsão criativa. Sendo, porém, a força das raízes irresistível, mesmo esses autores raramente escreveram ou escrevem uma página que não expresse a sua açorianidade literária. Rejeitam as suas origens por acharem que isso os “diminui” perante os seus pares continentais. Nada de mais errado ou mal pensado. Lembremos Vitorino Nemésio, José Martins Garcia e Natália Correia e veja-se neles o contraponto a esta anomalia literária ou teórica.
Não creio ser necessário citar todos os títulos dos contos deste livro. Basta-me exemplificar com “O ouro em pranto”, “Pesa-me de vos ter ofendido” e “O enterro mais triste do mundo”. Todas as suas personagens, masculinas ou femininas, permanecem mal ajustadas ao seu meio social, que lhes inflige todo o tipo de humilhação, a braços com os seus falhanços pessoais, familiares ou amorosos. São vítimas do destino nas mais variadas circunstâncias. Em todas elas o leitor verá a ambiguidade e a ironia da própria vida no que em nós haverá ou não de bondade e maldade, na luta por uma sobrevivência que preserve a dignidade, ou nos permita enfrentar cada dia, dentro e fora de casa. Toda a escrita sai da moda contemporânea quando rejeita as grandes questões coletivas e se centra no interiorismo dos seres reinventados pelo escritor. Não fomos nós, nessa inversão existencialista, que criámos a sociedade. A História guarda-nos um lugar, mas só cabe a cada um lidar com a sua sorte.
“Da janela do quarto – diz o narrador acerca de uma personagem a viver a sua melancolia em Lisboa – e através das cortinas corridas, ela olha a rua sob o declínio da tarde, observa a luz, ama o dia. Segue o movimento da tarde com o olhar cansado e distraído; acompanho-o até onde, lá muito longe, ela se curva caindo sobre as crinas do mar. O poente é uma cauda de pavão: espalha sobre a água um arco-íris de penas sangrentas que ardem em sarça, como o sal no lume. Diz adeus ao dia, recolhe-se para o interior da casa – e põe-se a chorar. Chora num pranto convulso, cheia de paixão. O Outono sempre lhe trouxera sentimentos de mágoa acerca do mundo…”
A definição dos nossos valores, na circunstância existencial, está sempre em causa. Nestas páginas, por vezes sóbrias e pessimistas, ninguém escapa aos seus espelhos, que ora distorcem a imagem, ora a diminuem. Entre nós nos Açores há sempre a tendência, algo despropositada, para comparar Vitorino Nemésio a outros grandes romancistas e contistas. Se Nemésio “retratou” uma pequena e medíocre burguesia em ascensão a meados do século passado aqui nas ilhas, João de Melo, em linguagens cruas e claras, como acontece em quase toda a grande arte literária, recriou a pobreza real e o espírito de uma determinada geografia, tanto na sua ilha natal, São Miguel, como depois em Lisboa e outras paragens retratadas na sua obra. Se toda a ficção parte de territórios íntimos, a verdade é que João de Melo foi, tem ido e continua a ir, ao universalismo da condição humana nas mais variadas nações ou culturas, principalmente desde o Arquipélago ao Canadá, à Europa e à África – destinos principais da salvação histórica ou da nossa tragédia nos tempos em que este país era governado pelo piorio da política, da economia e da finança. Se a obra continua sem data e se mantém intemporal, isso só reconfirma a sua grandeza.
Edmund Wilson, o grande crítico americano do século passado, dizia que o que mais distinguiria a prosa moderna (agora pós-moderna) seria a poetização que até então era esperada no seu género mais próprio. João de Melo foi sempre esse escritor que entende a alma humana na sua condição contraditória. Uma vez mais tal acontece, em estado que nunca deixa de ser ambíguo, pelo menos entre as personagens e protagonistas mais conscientes dos seus dias e do seu ser. Já muito escreveu este autor após a edição inicial destes contos. Nunca, porém, deixou de nos ver a nós de um modo com tanto de trágico como de heroico. A sua obra está marcada por essa temática e pelo estilo das suas linguagens – categorizada como grande literatura. Nessa continuidade há como que uma visão algo obsessiva do que entende ser a nossa vivência solitária, insular, num mundo em caos contínuo e talvez perpétuo.
Resta dizer que muita da obra de João de Melo se encontra traduzida em vários países e línguas: Espanha, França, Itália, Holanda, Roménia, Bulgária, Alemanha, México, Colômbia, Croácia e Estados Unidos. Happy People In Tears (Gente Feliz com Lágrimas), o seu romance mais conhecido (agora a celebrar 30 anos de publicação) foi traduzido na América por Elizabeth Lowe, antiga colega nas aulas de Gregory Rabassa em Nova Iorque da minha mulher Adelaide Freitas (recentemente falecida), que também escreveria uma das primeiras séries de ensaios que depois foram reunidos no livro João de Melo e a Literatura Açoriana, publicado pela Dom Quixote em 1993. São poucos os autores portugueses da nossa modernidade que desfrutaram de tanta atenção em Portugal e no estrangeiro. Isso fala por si, quanto à grandeza da sua escrita e de um percurso literário com tanta consistência e lealdade às suas múltiplas geografias de afinidades eletivas.
___
João de Melo, As Coisas da Alma e Outras Histórias em Conto, Lisboa, D. Quixote/LeYa, 2018. Publicado no Açoriano Oriental, 30 de Novembro, 2018.