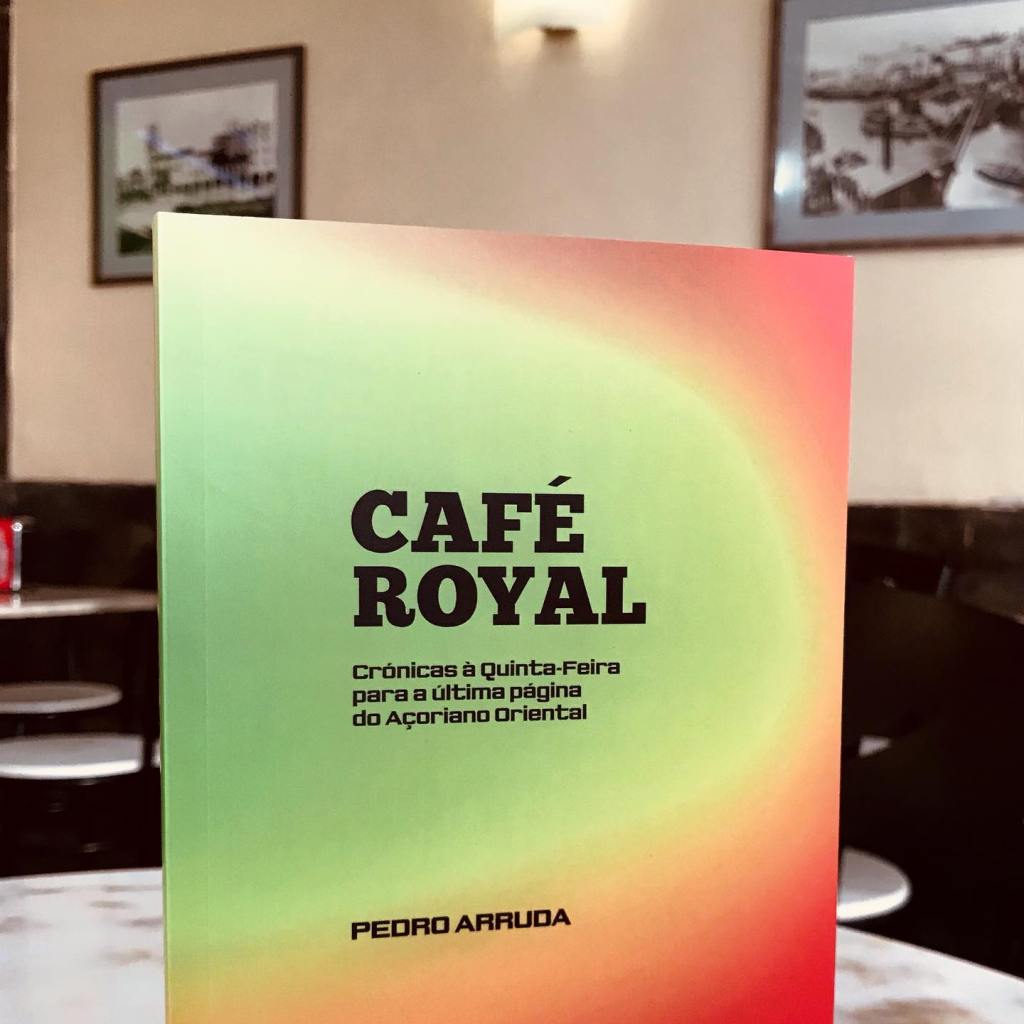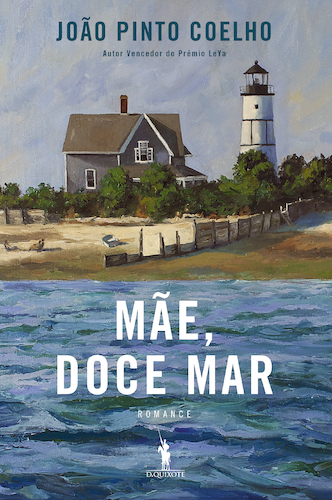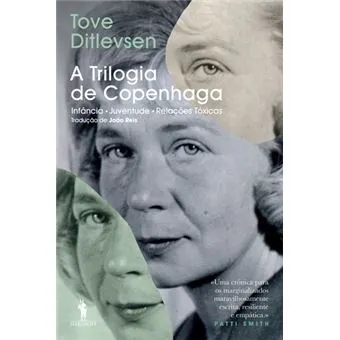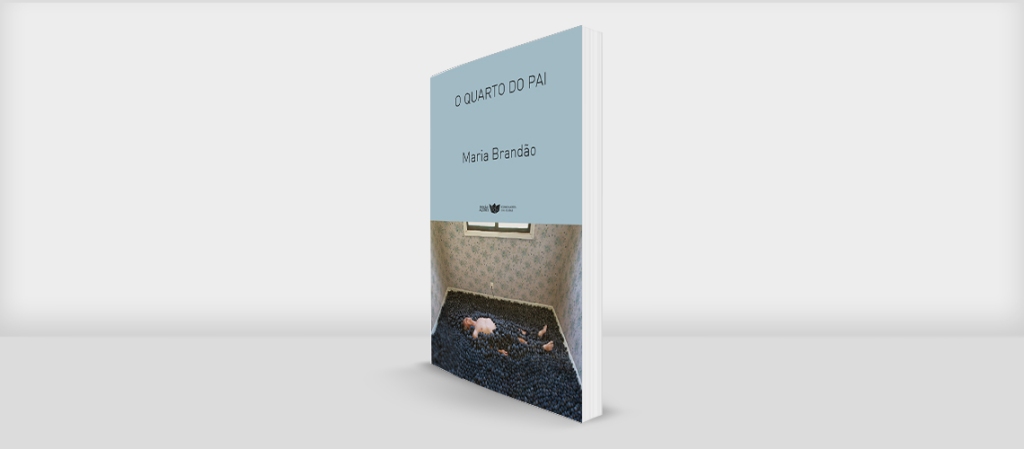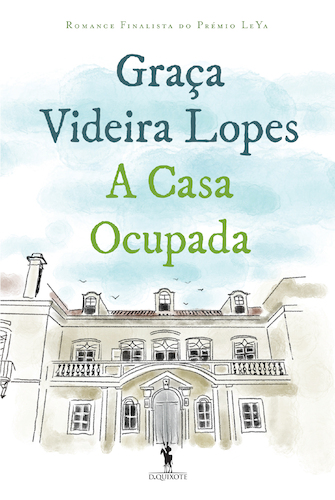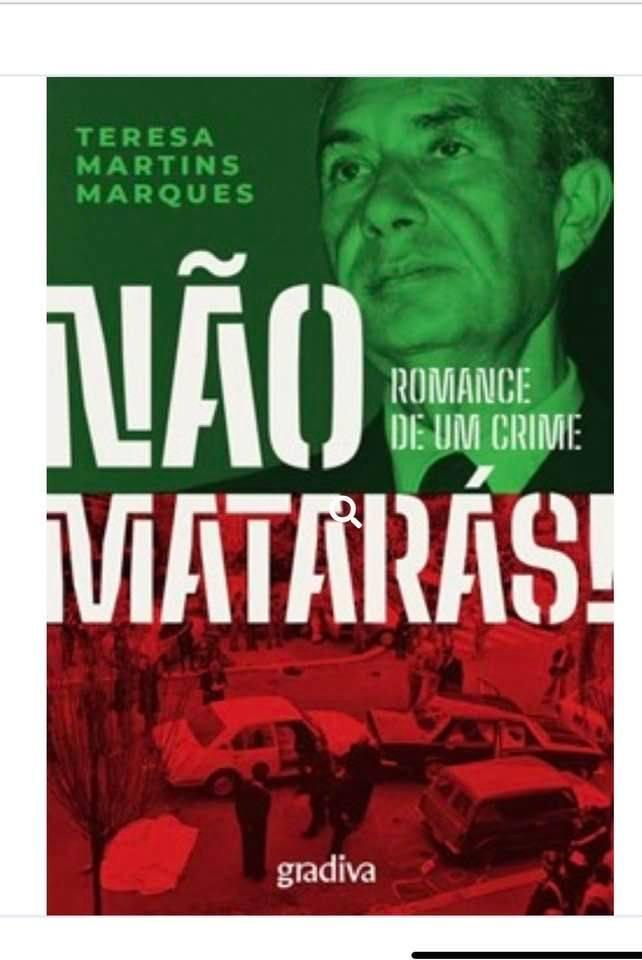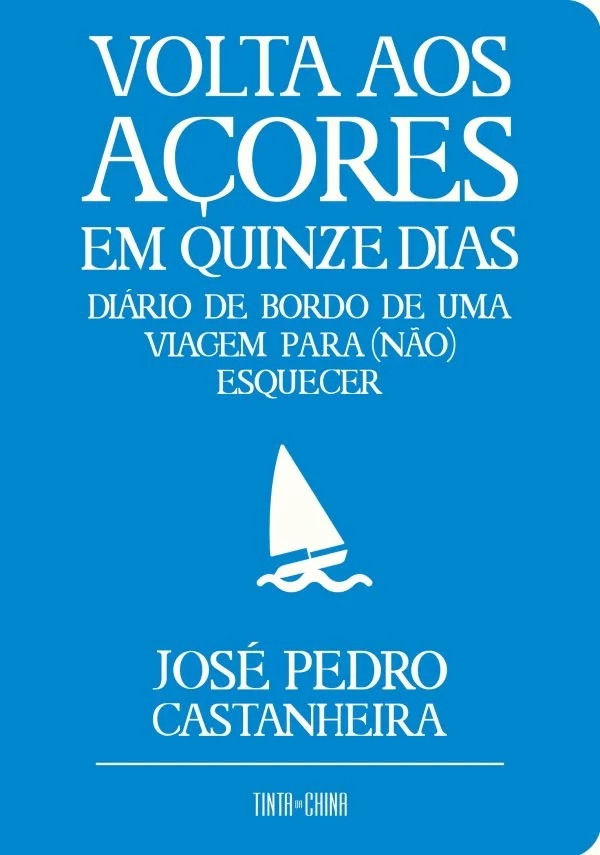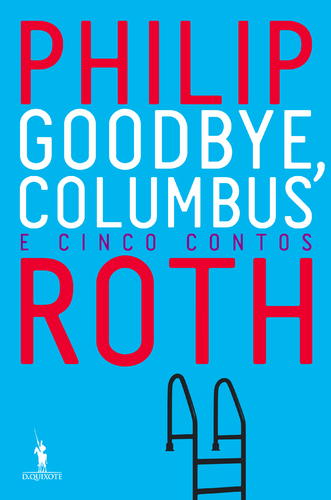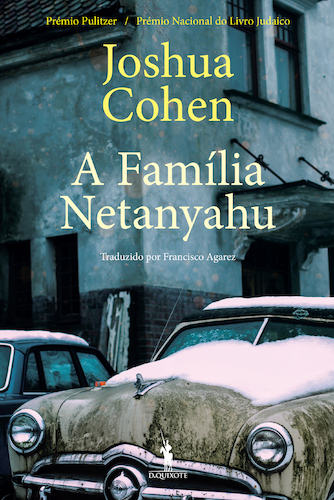
SS
Só conheci o eminente crítico literário americano Harold Bloom perto do fim da sua vida e adquiri o hábito de o visitar com alguma regularidade na sua casa de New Haven, Connecticut… eu era uma espécie de anomalia entre os seus muitos admiradores.
Joshua Cohen, A Família Netanyahu
Vamberto Freitas
As palavras aqui citadas são tiradas do ante-penúltimo texto do romance A família Netanyahu, de Joshua Cohen, o escritor judeu-americano que conquistou o ano passado um lugar cimeiro na literatura do seu país, assim como por muita outra parte no mundo, tendo vencido o cobiçado Prémio Pulitzer e o Prémio Nacional do Livro Judaico (Jerusalém). A imprensa internacional também não se conteve nos elogios ao autor e à sua obra, declarando-o “o livro do ano” (2021), todos afirmando que Choen é um dos grande escritores norte-americanos da atualidade. Por certo que nenhum leitor poderá ler um único passo ou diálogo deste romance sem rir em voz alta, tremer de satisfação artística a sós ou na companhia de outros. O romance cómico, dirigido a um recetor fechado em qualquer parte, será talvez um dos géneros mais difíceis de conseguir. Quando o narrador se confunde abertamente com o autor, a narrativa na primeira pessoa torna-se como que uma hilariante conversa entre o leitor e o escritor. A ficção destas páginas nasceu de sucessivas e prolongadas visitas a um dos mais distintos críticos do nosso tempo, Harold Bloom. Nesse mesmo texto intitulado “Créditos, Incluindo Um Especial” nomeia, pela voz do visitante e do seu famoso e controverso anfitrião, praticamente todos os nomes significantes da ficção contemporânea e da sua teorização na nossa época.
A Família Netanyahu encerra com uma carta verdadeira enviada ao autor por uma amiga também judia-americana, lésbica assumida, que o manda para outro lado, assim como a tradição milenária que ela acusa de mais não ser do que reino patriarcal. “Querido Josua Choen, acabei de ler o teu ‘livro’ e vou dizer de uma vez por todas e não se fala mais no assunto: Judaísmo é apenas outro nome para O PATRIARCADO (e para a HEGEMONIA PATRIARCAL). Somos todos um povo só, o Povo Humano, sem nenhuma diferença entre nós. O planeta está destruído, as máquinas estão a tomar o poder, e estas tretas todas dos judeus já não interessam nada…”. Pura ironia, entenda-se. O resto da carta não deve ser citado num periódico dito de família, mas quase nos faz cair da cadeira a rir. Fica o aviso: quem mais se inquietar com o revisionismo da História e da Identidade seja de quem for, não abra este livro. Não é anti-ninguém, só anti-estupidez quando se confunde ou se conhece mal ou se contorce o passado incerto interligando-o com qualquer teologia ou crenças fantasiosas. Pelo meio de toda esta prosa está um Professor Doutor de História, judeu-americano, já se sabe, numa pequena e provinciana universidade algures em Nova Iorque longe de Manhattan, o fictício Corbin College. Os seguidores de David Lodge não ficarão desapontados com este romance, pelo contrário, é um regresso maior do riso que menoriza sem magoar o mundo académico e os seus supostos especialistas, os corredores onde trincam todas as invejas e se procura o prestígio intelectual e “científico” à custa de infindáveis citações em monografias ilegíveis. Derridas & Co são lenmbrados em casa de Bloom, sem juízos de valor, mas mas com efeito calculado.
Netanyahu, isto mesmo, a família do – outra vez – Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Bibi, no gozo de muitos) ainda a braços com a Justiça do seu país acusado de corrupção em diversas áreas da vida pública. O romance é uma tirada cómica de uma viagem aos Estados Unidos pelo seu pai e mãe, e mais dois irmãos de Benjamin na sua infância e juventude, o meio professor meio impostor Benzion Netanyahu, que havia saído de Jerusalém em busca de um lugar na academia norte-americana levando consigo “conhecimentos” históricos sobre o destino dos judeus na Península Ibérica durante o século XV – e a Inquisição, acompanhada de uma teoria disparatada que explica a sua aparição para perseguir e queimar os descendentes de Sião em Espanha e Portugal. Um povo que permite que os seus artistas riam de si mesmos tem de ser um povo que já passou pelo pior e desumano. Por entre toda a sua verdade profana e crenças religiosas, intrigas e rivalidades de toda a natureza política e ideológica casa adentro muito antes e depois da refundação do mítico Sião, a tragédia dá lugar à comédia universal, para além de tudo o resto que nos separa. Ninguém foge “ao humano”, de que falou de Harold Bloom sobre Shakespeare quando este o inventou nos seus dramas e demais escrita. O narrador e protagonista desta narrativa chama-se Ruben Blum. Pois. Sabemos a quem se refere, ou em quem se fundamenta toda a sabedoria literária e filosófica que aqui se esconde num outro professor dessa já mencionada universidade perdida entre neve e florestas, com todos os sintomas de vangloriação da sua faculdade numa vivência quase inconsequente entre copos e livros, e ainda a pretensa lecionação de matérias que raramente são dominadas por quem se formou noutros campos de estudo. Está de volta a gargalhada e ironia dos melhores escritores judeu-americanos, aliás mencionados pelo autor sem apologia na própria narrativa: Saul Bellow, Bernard Malamud, Woody Allen e Philip Roth, o inimitável autor de Sabbath’s Theatre/Teatro de Sabbath, que Joshua Choen afirma ser, e acreditamos, um dos seus mestres. Sim, a rara insinuação de sexo está aqui presente, e uma cena em casa de Blum com a filha a caminho de uma faculdade e um dos filhos de Netanyahu que fica em casa do narrador durante um dia e uma noite antes de Ben-Zion (também assim escrito pelo narrador na sua genial ironia) ser entrevistado por um comité que vai decidir a sua candidatura à pequena universidade, e a uma conferência sua, que ninguém entende, os colegas esperam pela hora social alegre, e o restante público queda-se calado e provavelmente a tentar não adormecer. São os fretes académicos e literários do costume.
“As recordações mais vivas que guardo – diz Ruben Blum resumindo horas de vergonha e convidados em casa a estragar-lhe a sua paz sempre condicionada – daquele dia com Netanyahu são do tempo passado ao sabor da intempérie, cuja violência desencadeou uma grande angústia dentro de mim – atravessando o campus em passo acelerado entre edifícios de cuja localização não estava muito seguro, edifícios que conhecia de nome mas não de vista ou de vista mas não de nome, angustiado por poder chegar tarde, angustiado por poder dar um trambolhão no gelo, e acima de tudo – depois da entrevista – angustiado com a possibilidade de não conseguir manter a compostura e perder completamente a paciência.
Quando saímos do campus e atravessámos a cidade à luz do crepúsculo, Netanyahu ficou para trás e começou a lamentar-se na língua do vento, o hebraico. Eu percebi o essencial: sentia-se subestimado, tratado com condescendência, rebaixado. Sentia-se insultado, ele que tinha feito os insultos e vindo em busca de favores.”
Não há como não sair da narrativa aqui. Imaginemos Harold Bloom a contar algo assim nos seus últimos dias de vida, encadeirado e à mesa da sua sala, com a sua real sapiência literária que caracteriza toda a sua obra polémica, o humor corrosivo, desconfiado perante tudo que era a instituição universitária quanto a estudos literários, e a ironia que marca o riso imparável na leitura deste romance, um exercício artístico a um tempo de absoluta originalidade, e descaradamente continuador de outras obras e autores mencionados anteriormente. Por fim, não nos é possível desligar este romance de uma resposta encoberta à arrogância de uma família que sempre influenciou o rumo de Israel, e com a qual o autor não pede licença para discordar, como qualquer escritor que rejeita as amarras do discurso acerca de uma cultura e de um povo heroicamente sobrevivente das maiores atrocidades na Europa. A América foi desde o início do século passado um porto seguro da sua Diáspora – a inevitável e dúbia americanização, aqui representada na mais estridente gargalhada literária. A partir dos anos 30, os filhos e as filhas dos imigrantes judeus começaram a dar conta da experiência radical que tudo isso os envolveu, o imperativo de colocar lado a lado ao sofrimento dos antepassados um presente que eles queriam normalizado, a afirmação da vida sem negar a História vivida, o “teatro” de Roth, entre tantos outros, esse espelho de toda a nossa humanidade contraditória, a convivência possível em terras que já não deveriam ser “estranhas” nem de “estranhos”. Trata-se de uma brilhante literatura pós-moderna, pertencente a uma muito antiga tradição, sempre debaixo da exegética, ora conflituosa, ora amenizadora entre povos e culturas.
A Família Netanyahu tem como uma espécie de sub-título Relato De Um Episódio Menor E No Fundo Até Insignificante Da História De Uma Família Muito Famosa. O começo do riso, pois. A presente obra vem na sequência de outros romances, coletâneas de contos, e ensaios vários. Nascido em Atlantic City em 1980, reside agora em Nova Iorque. Trata-se de outra antiga tradição de escritores americanos mais conhecidos a partir dos anos 20. Longe da grande máquina editorial e dos meios publicitários, nada feito, se bem que a maioria dos modernistas americanos de lá se safava logo que possível, logo que de nome feito num ou noutro livro.
______
Joshua Cohen, A Família Netanyahu (Tradução de Francisco Agarez), Lisboa, D. Quixote, LeYa, 2022. Publicado no meu “BorderCrossings” do Açoriano Oriental, 2 de Dezembro, 2022.