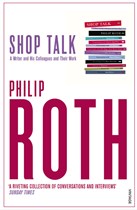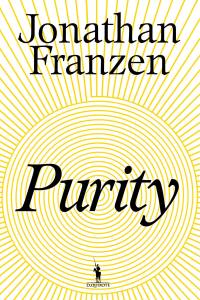Neste mundo de interesses ainda é perigoso descobrir a verdade e, muitas vezes, faz esquecer a esperança. As pessoas até às desilusões se acostumam até ao dia de acordar. São as épocas sem futuro.
Dimas Simas Lopes, Porto do Mistério do Norte
Vamberto Freitas
Um segundo romance é sempre uma prova arriscada para o seu autor, ou mostra que tem a capacidade da escrita ou deixará os seus leitores indispostos a outras tentativas em livros futuros. O novo romance de Dimas Simas Lopes, Porto do Mistério do Norte: Mar de Longe – que segue o seu Sonata Para Um Viajante, de 2012 – vem confirma-lo como um fluente contador de histórias, a cada passo consciente da natureza e do alcance das suas linguagens muito próprias, assim como na construção de uma narrativa significante a vários níveis – a memória, ou memórias, de um tempo e um lugar açorianos, a captação verbal não só de mundos perdidos como a capacidade de nos reflectir num jogo de espelhos o presente dos seus personagens, “as épocas sem futuro” de que nos fala na conclusão destas suas histórias interligadas para nos dar um mosaico completo, que é um microcosmo dos Açores, como suspeito ser de todo um país mais ou menos escondido dos holofotes da política e afazeres citadinos à grande escala. Com efeito, este é mais um romance das gentes da terra e do mar, fazendo lembrar de quando em quando o Dias de Melo e os seus baleeiros picoenses, que dividiam a sua existência sempre periclitante entre o arado e o arpão, como nos já clássicos Mar Pela Proa e Pedras Negras. Não haverá nada de mais esperado numa tradição literária do que a continuidade de temas colectivos, os olhares que tanto recordam as obras anteriores como delas partem para outras fatias-de-vida situadas no mesmo espaço e moldadas pela mesma História, mas dando-nos outras perspectivas surgidas pela passagem do tempo, e muito especialmente pela angústia existencial que toma outras formas e reclama outros entendimentos, a perpétua reinvenção do passado. Se no primeiro livro Dimas Simas Lopes optou por um narrador de formação cultural sólida e sofisticada, convocando para a sua narrativa os mais eruditos referenciais da música e da própria literatura, apresenta-nos nesta sua nova obra uma narração a várias vozes, as falas sobre o passado e como chegaram aos dias presentes os personagens-narradores, quase todos eles ligados à caça da baleia ou à pesca de sobrevivência de outrora, cujos barcos de boca aberta ainda lembramos ou vemos cada vez menos das nossas janelas ou na sua chegada às lotas, ouvimo-los sentados em conversa uns com os outros, ou enquanto bebem os seus copos nos pequenos bares locais, a incerteza do presente levando-os a histórias de miséria e perigo, à denúncia das eternas injustiças quando pobre se nasce e pobre se permanece numa sociedade que eles nem desculpam nem branqueiam nas suas hipocrisias e desequilíbrios sociais e económicos. Os narradores mantêm ao longe tanto as figuras dessa classe historicamente dominante, raramente se avistando a sua existência nas conversas destes velhos e novos pescadores e agricultores, reconhecem por inteiro o seu lugar pré-determinado na vida, mas sem o rancor militante de outros, sabendo que a luta é muito longa e antiga, a sua vida curta demais para o amor e a protecção mínima dos seus. Não pensem que estamos perante uma espécie de neo-realismo tardio ou reavivado nos Açores. Trata-se, acima de tudo, do outro lado da História das ilhas – as imagens de um quotidiano que fora da literatura nunca tiveram lugar em qualquer compêndio ou narrativa académica institucionalmente legitimada. É desta literatura, deste rico corpus literário açoriano de onde sobressai e fica para conhecimento de gerações futuras a “vida em ilha” de todo um povo, é em obras como este Porto do Mistério do Norte onde o drama completo dos sem nome nem posses ficará sempre registado nos nossos arquivos criativos.
Há descrições de lutas contra o mar e as suas maiores criaturas que parecem quadros vindos de Moby Dick, o que também não nos deve surpreender visto que Dimas Simas Lopes é um dos nossos mais reconhecíveis pintores da Ilha Terceira, a cultura popular e erudita alguns dos seus temas constantes. Em Porto do Mistério do Norte, que tem a mítica freguesia dos Biscoitos (nunca aqui mencionada) como fundo humano e geográfico, a terra e o mar não só as fontes de sobrevivência do seu povo no passado, como um espaço de diversão para a restante ilha, e ainda o sítio privilegiado de ricos terra-tenentes da burguesia mais recente, as linguagens destas histórias criadas por vários narradores ditas em discurso directo e indirecto a um outro personagem de nome Tónio, colocando o leitor no meio das conversas — ouvimos um sotaque muito próprio, revemos ou imaginamos em pormenor as figuras que estão no centro da narrativa, que nos recriam um mundo desaparecido, ou a desaparecer rapidamente. Recuamos a décadas do princípio do século passado, e a toda a miséria que pretendia abraçar a maior parte da população numa beatice do Estado Novo e da Igreja, o tempo em que a fome já vinha muito de trás, o tempo em que a população queria fugir, e fugiu para a emigração, os restantes apanhados na guerra colonial, relembrada nestas páginas por um dos protagonistas. Por certo que alguns outros escritores açorianos, uma vez mais, já trabalharam estes mesmos temas, mas creio que a originalidade de Dimas Simas Lopes é ter concentrado num recanto de uma outra freguesia, tendo o mar como referencial exterior mais íntimo, os seus personagens nalguns dias e noites de conversa, ora serena e redentora ora acusadora e estimulada pelo inevitável copo de vinho de cheiro ou verdelho, que também fazem fazem parte daquela terra, as suas pedras negras cobertas pelas vinhas, as suas adegas os palcos de visitas e convivência, as suas festas um imaginário de toda a ilha. As palavras derramadas torrencialmente das memórias que cada um vai convocando para melhor explicar o seu presente, marcado, como sempre, pela insegurança e pela riqueza que a todos ilude e que fazem desta narrativa essa outra metáfora não só de uma pequena povoação terceirense, mas igualmente de todo o país escondido dos poderes, ou por eles ignorado desde os primórdios da nação, o povo ao seu serviço na terra e no mar, quando se apropriam da paisagem e da restante beleza em volta.
“E eu, Tónio, um pescador – diz uma das dessas vozes no encerramento da narrativa totalmente dominada pelos que estão ou vêm de baixo, frase recorrente neste romance – que vive do que o mar tem e dá, um ilusionista de anzol, com as minhas manhas e as minhas ilusões pesco peixe e pesco histórias, vê para o que me deu, um pescador de barco de boca aberta, viver do mar e gostar de contar histórias, sabes bem, Aninhas, que as vidas não são mais do que histórias e são as vidas que as fazem, tenho andado a contar o nosso encontro e como se aprende a brincar com os sentidos e como se faz dos nossos corpos um corpo só… Olha para este desatino, um pescador contar histórias, também sabes que o mundo não regula bem, contar sonhos e ilusões misturados com histórias de verdade. Dizem, quando alguém morre, morrem histórias que se contam e histórias que fazem livros”.
As longas recordações que vão dando forma e fazendo convergir todas as histórias de ou sobre diversos personagens para esse só quadro que retrata um tempo e uma comunidade têm por detrás de si um tema unificador, que faz da multiplicidade de vozes uma só – a náusea do presente, a marginalização de quem foi apanhado pela suposta modernidade, que ideologicamente faz dos seres humanos peças úteis ou descartáveis. A narrativa de Porto do Mistério do Norte inicia-se em 2011, indicando o descalabro real de todos os recantos do país, o ano em que desabaram todas fantasias colectivas de uma certa geração, os novos poderes actuando como sempre actuaram na História – a defesa de quem tem e manda, a casa grande, agora reerguida e tornada centro burocrático de comando, sugando a senzala, ameaçando a cada minuto o regresso dos pés descalços, a expulsão das zonas de conforto. O pior é que estas minhas palavras, como expressão analítica de uma obra de ficção, não serão mera retórica literária. Tal como o romance de que vimos falando, nascem da vivência quotidiana, do olhar atónito para o que nos está a acontecer, e que tendemos a negar – a continuidade histórica, quase genética, das sociedades em que vivemos, os cortes radicais com o passado também uma mera ilusão, à semelhança do que diz Tónio no passo acima citado, praticantes e crentes no ilusionismo com que colorimos a nossa existência. Restam-nos, pois, as palavras, as histórias, para que a mentira dos compêndios oficializados e da fala dos poderes sejam contrariadas pelas histórias verdadeiras da ficção, a arte mantendo-se desde sempre a única fonte simultaneamente de prazer puro e da verdade, das outras verdades.
Porto do Mistério do Norte cumpre brilhantemente o que penso ser o seu propósito – captar, como outros escritores fizeram noutras épocas, um momento histórico de transição na sociedade portuguesa, apontando, de novo, o Nada para onde caminhamos todos.
_____
Dimas Simas Lopes, Porto do Mistério do Norte: O Mar de Longe, Lajes do Pico, Companhia das Ilhas, 2015. Publicado na minha coluna “BorderCrossings” do Açoriano Oriental de 30 de Outubro de 2015.