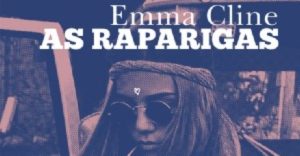Os livros esquecidos, as autores ignorados são artífices do destino que subsiste debaixo da superfície.
Afonso Cruz, Nem Todas As Baleias Voam
Para a Adelaide, que voa sempre comigo
Vamberto Freitas
Primeiro do que tudo, Nem Todas As Baleias Voam, o mais recente romance de Afonso Cruz, tem pouco ou mesmo nada a ver com um desses adoráveis mamíferos marítimos que faria de Herman Melville o mais canónico de todos os autores americanos canónicos, nem sequer nos fica na memória como símbolo ou metáfora maior deste inusitado romance na nossa língua. A sua audácia temática e as suas linguagens, tão claras como obscuras, como que num poema de um T. S. Eliot menos sisudo, são uma espécie de exercício entre um modernismo literário cada vez mais distante e um pós-modernismo que insiste em combinar a habitual revisitação à História, tanto imaginada como real, por entre a ambiguidade de significações que os quase esquecidos new critics consideravam uma das marcas maiores de qualquer texto que valesse a pena ser lido, meditado, dissecado. Se é verdade que na realidade a CIA tentou as maiores e frequentemente cómicas loucuras para derrotar a ex-União Soviética, o narrador de Afonso Cruz desdobra-se brilhantemente em contador de estórias privadas e arquivista de supostos “documentos” em que o protagonista Erik Gould é recrutado para organizar concertos de jazz no outro lado da Cortina de Ferro durante os anos 70 do século passado, e assim tentar cativar “corações e mentes” (como diziam no tempo escuro do Vietname) para a traição ao comunismo e de seguida adesão ao Ocidente, querendo dizer aos Estados Unidos, a cidade de Deus e do Wall Street. Só que Nem Todas As Baleias Voam é muito mais do que isso. Por detrás da História estão os seres humanos na sua solidão, no seu destino pessoal entre quatro paredes ou passeado numa rua em que mais ninguém conta ou exerce sequer a mínima interferência ou influência nas obsessões ou no coração que quem olha sem ver, de quem sonha sem esperança. Gould, diz o relatório da CIA escrito em secções intermitentes na narrativa, tinha só música dentro de si, e não a queria, magoava-se a si próprio numa tentativa de redenção pelo pecado que era a sua arte, que nele residia e que o oprimia. Arte e amor eram a sua dor. Colocar os dedos num teclado do seu piano para conquistar outros e fazê-los abandonar o seu mundo, sofrer a angústia de não ter a mulher que ama e que o havia deixado, levando-o a uma perseguição obsessiva de um reencontro, como um Ahab atrás da baleia branca que também o havia mutilado para sempre. Ódio e amor, restando todos os outros num palco sem mais enredo ou desfecho. Erik Gould tem um filho de nome Tristam, e que vive em Paris com um casal amigo, também eles reduzidos a encontros ocasionais dentro da mesma casa, a cama mero poiso de descanso ou onde se espera mais morte do que vida. Este é um romance feito de memórias deliceradas, mas em que o humor das palavras e das acções são o contraponto à impossibilidade de vidas com sentido ou da normalidade com alguma felicidade no dia ou na noite. No centro de tudo e todos está a espera do protagonista pela sua amada, Natasha Zimina. Já a meio do romance estamos em 1969, “Quando [Neil] Armstrong – relembra o narrador – pisou a Lua pela primeira vez… A Lua dos amantes nunca mais seria a mesma”.
O que mais impressiona num romance como Nem Todas As Baleias Voam é a quase ausência do sentido ou “espírito do lugar”, dado o momento histórico que que lhe serve de referência e a política da loucura que na realidade nos ameaçava a todos. Estamos, naturalmente, na América, na Europa deste deste lado, e depois na outra então no lado de lá. É impressionante como quase não sentimos, não vivemos, essas geografias já meio lembradas meio esquecidas. Afonso Cruz faz-me repensar o que tinha sido sempre o mais fundamental na arte literária – o lugar era um mero lugar, as personagens, a sua vida interior, os seus lamentos ou as suas lutas pela sobrevivência, pela sua integridade, pelo seu sentimento de culpa ou pela tentativa de salvação é sempre o que mais lembramos de uma significante peça literária. Nunca será a tentativa de uns serviços secretos sem nome nem identidade definida que retemos destas suas páginas. Muito menos será a luta entre um bloco ideológico ou militar e outro que o leitor vai registar na memória numa leitura deste romance. Vão ser as poucas as figuras (re)inventadas e os seus dizeres e desejos que ficarão connosco, a dor da perda, o desespero do nada num mundo em que adivinhamos em ebulição, a música como refúgio, a arte em geral como a obra maior da nossa própria humanidade. O registo histórico destas páginas, incluindo o que poderá ser parte dos arquivos reais de um tempo e fúria, servem apenas como como referência secundária e, de certo modo, palco esclarecedor de certas motivações de cada um, um tempo que provocou ou não decisões e comportamentos, um tempo que tinha outras e bem diferentes modos de ser e estar. A História é uma abstração para cada um de nós. As nossas vidas quotidianas, os nossos desejos, os nossos sonhos são quase sempre demasiado íntimos. Por entre as chamadas massas e as vozes dominantes, permanece a nossa alma, a nossa vontade de uma normalidade feita à nossa medida e na companhia de quem amamos, ou são os nossos mais íntimos outros. Erik Gould tem a falta da sua mulher amada, o seu filho não tem nem presente nem passado, guarda numa caixa de sapatos objectos banais, o que mais o vai definir após a morte, o casal amigo com quem vive, Tsilia e Isaac Dresner tenta redescobrir o amor e o desejo. Dresner tem uma livraria que se chama Humilhados & Ofendidos. Pois. Fiódor Dostoievski, ou o chamamento à nossa humanidade, em todas as geografias de afectos e memórias, de loucura, raiva e solidão.
“O Escritor – escreve o narrador sobre ele próprio, ou sobre um outro ser imaginário – dizia que não era ele quem escrevia, que não era ele o autor, que era um escravo da inspiração, que a sua mão se mexia comandada por uma força estranha à sua vontade, que aquelas histórias não lhe pertenciam. Era um processo extremamente doloroso, em que ele servia de veículo. Muitos escritores sentem exactamente a mesma coisa e garantem que a inspiração lhes escorre pelos braços, pelo corpo, pela cabeça, num processo mágico em que a escrita parece contornar a consciência para ser algo que sai dos dedos, como a tinta sai das pontas das canetas. E tudo isto é acompanhado de uma dor imensa, como um parto, com sangue e com suor. Com o Escritor, era exactamente isso que se passava. Era literalmente isso que se passava”.
Desde há alguns bons anos, e nas mais variadas línguas, que que se fala na “morte do romance”. No nosso país, Vergílio Ferreira também fez questão de o afirmar por mais de uma vez. Nunca entendi bem de onde vem esta ideia, de onde vem a ideia que a arte literária acaba com uma qualquer geração. Não queria ser injusto aqui, mas creio que certos autores de renome nos seus países, ao chegar a certa idade ou exaustão, ou, mais problemático ainda, para ser delicado aqui, achavam-se os últimos mestres da forma e do conteúdo. Pior ainda, um Francis Fukuyama afirmava no seu famoso O Fim da História E O Último Homem que tínhamos chegado ao fim da caminhada político-ideológica, o liberalismo sócio-económico tinha-se tornado o futuro, a universalidade da vontade humana atingia o seu auge, a sua meta final. As fantasias académicas também são frequentes, e conseguem por algum tempo impor-se. Nem a história chegou ao fim, nunca, nem arte deixará, nunca, de transfigurar a condição humana. Em todas as línguas e culturas a literatura parece estar cada vez mais viva. Em Portugal, há uma nova geração de escritores que nada devem a ninguém. Sabem dos seus antecessores nacionais, e sabem dos outros. Sabem agora que há mais mundo para além do seu. Sabem que a sua língua pode e deve dizer do mundo sem fronteiras e preferivelmente sem preconceitos de qualquer espécie. Viram o dito de Fernando Pessoa ao contrário: Sou de toda a parte, como sou daqui. Já falei de alguns deles que publicaram em tempos muito recentes. Lembro agora também Afonso Cruz. O resto da sua obra, na literatura, nas artes plásticas, filmes de animação, músico e cineasta completam a sua visão do tempo que é o nosso, da condição humana em sociedades globalizadas enquanto reafirmam a sua individualidade, a sua diferença no mosaico humano que, apesar de certa retórica política do momento, a grande arte literária representa nas mais variadas línguas e tradições.
___
Afonso Cruz, Nem Todas As Baleias Voam, Lisboa, Companhia das Letras/Penguin Random House, 2016.