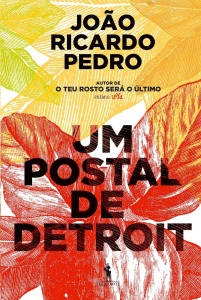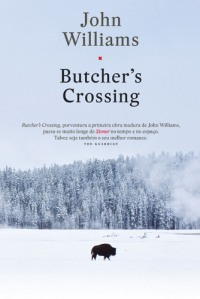Ao contrário da Leonor camoniana, não vou à fonte, mas sim à torre de marfim; caminho formosa e segura, com a certeza de que a minha pele deixa escapar um leve perfume de ilha e mar, o cheiro da minha avó, um pedacinho de uma história construída no feminino, a minha história.
Maria João Dodman, AndarIlha
Vamberto Freitas
Há algum tempo que não lia, de uma autora açoriana residente ou fora do arquipélago, uma escrita tão bela e assertiva, que de uma penada maravilhosa define a sua pessoa e uma história de mulher entre-mundos nos dois lados do Atlântico, ciente e consciente da sua sorte pessoal numa diáspora lusófona cada vez menos dispersa ou longínqua, cada pedaço de prosa sobressaindo aqui como uma alegoria do processo de reinvenção contínua do seu ser e modo de estar na vida. Maria João Dodman, doutorada em literatura ibérica pela Universidade de Toronto, Professora Associada da York University desde 2008 e pertencente ao Canadian Center for Azorean Research and Studies, micaelense criada e educada desde cedo no Faial, e depois imigrada naquele país norte-americano a partir de 1989, não será só mais uma andarilha açoriana em busca de um outro mundo e vida, mas sim uma participante vivíssima nessa experiência flutuante por cima de mares e terras, que é a vida de todo o imigrante em qualquer parte, mas acima de tudo revela-se ao seu público leitor como uma das mais agudas observadoras desses mundos-outros, e que resulta agora nesta pequena mas magnífica colectânea de breves textos, AndarIlha: Viagens De Um Hífen. A vida intelectual lusa tanto nos EUA como no Canadá não tem par em qualquer outro país dos nossos antigos ou modernos destinos, e isso inclui mesmo o Brasil. Falo das primeiras gerações que desde meados do século passado saíram em grandes números, e falo enfaticamente das primeiras gerações açorianas que se formaram e integram hoje algumas das mais prestigiadas instituições do ensino superior naqueles dois países. Poderão ser poucos em números proporcionais ou quando comparados com outros grupos nacionais, mas a verdade é que quase todos eles e elas têm sabido equilibrar o seu lugar nas torres de marfim, de que nos fala Maria João Dodman nestes seus textos, com a intervenção pública constante, e ainda mais através de obras literárias que um dia, à maneira que se vai desfazendo em Portugal os preconceitos habituais ante os nossos supostos estrangeirados, farão parte de um rico e consequente cânone literário e cultural, inevitavelmente transfronteiriço por força da nossa história arquipelágica e nacional, por força da globalização cultural em curso. Aliás, quanto à literatura referente aos Açores já não é sequer concebível qualquer leitura englobante ou estudo sem os incluir, quer escrevam na língua portuguesa ou inglesa. A nossa imigração massiva para o Canadá data dos anos 50, mas depressa os nossos escritores lá residentes começaram a dar conta de si, da sua vida nas, ou à margem das nossas comunidades. Com este livro, a autora coloca-se num distinto rol de prosadores, como Irene Marques, Eduardo Bettencourt Pinto e Paulo da Costa, e em língua inglesa os luso-descendentes Erika de Vasconcelos e Anthony De Sá. Note-se que não menciono aqui géneros ou quantidade de publicações, refiro-me antes ao impulso temático e referências binacionais desta escrita, na firme convicção de que esta pequena jóia literária que tenho entre mãos é um prenúncio ou tão-só um primeiro exemplar do que a autora nos dará no futuro. Não a imagino a ficar por aqui, tanto neste género literário como ainda mais em prováveis narrativas de fôlego. O falecido poeta Urbino de San-Payo disse-me um dia na Califórnia que a nossa vida era, pensada e dita metaforicamente, como que estarmos a meio de uma ponte, sem nunca avistarmos os dois extremos. Poderá ter sido assim noutra época, mas o que nos diz Maria João Dodman é que essa mesma ponte é para ser percorrida em duas direcções, e só assim se completa o destino de um povo que dos seus guetos metropolitanos em terras distantes reconstrói mundos sincréticos e inteiros, vivendo quotidianamente a universalidade que entre nós parece ser apenas um conceito intelectual, constantemente invocado por bem-pensantes.
Noto que resisto à designação de “crónica” para esta escrita de AndarIlha: Viagens De Um Hífen. A brevidade destes textos não nos deve impedir de ler neles o que, frase a frase, linha a linha tem a voz inconfundível com que um escritor ou escritora se dirige ao leitor – contêm pensamento ensaístico com chamamentos à experiência pessoal num contexto mais vasto de história relembrada ou insinuada, o pessoalismo da autora em dialéctica constante com as duas culturas e línguas em que está inserida, a memória dos dias de bruma ou escuridão açoriana que escondiam um passado de rigor tradicional e opressivo, particularmente para as mulheres enquanto os homens se dissipavam no álcool e na ausência do sonho, essa ruralidade das ilhas em confronto com, ou dando lugar à libertação de novos mundos. Lembro-me de quando eu, já a meio dos meus estudos numa faculdade californiana, olhava para o meu antigo Bilhete de Identidade, e achar-me um “estranho” naquele passado, sem ter naquela precisa altura deixado de também sentir-me um estranho em terra estranha, os meus dias uma reinvenção constante de mim próprio na procura determinada de um lugar no futuro e de uma razão de vida. Era na cozinha da minha mãe ou da minha irmã onde eu voltava esporadicamente ao cheiro da açorianidade, às linguagens das minhas origens. A noção – como há anos escrevi noutra parte – de “pátria” para mim era já só quase teórica, e não previa qualquer regresso, real ou sequer sentimental, aos dias de conforto na minha freguesia de nascimento. Tudo isto para dizer que entendo perfeitamente quando Maria João Dodman se redescobre ou reconhece de novo como mulher açoriana na obra de Dias de Melo, começando por Pedras Negras, cujo referencial geográfico e humano envolve idas e vindas dos Açores à América. “A cidade de Toronto – escreve a autora em “José Dias de Melo: Saudades Dele, Pena de Nós” – e aquela biblioteca desapareceram e eu estava lá com o Francisco e a Maria, numa experiência que ainda hoje afirmo que consegui cheirar o mar e a terra dos Açores”. Eis o poder quase místico da literatura, eis o poder das suas sombras que espelham o nosso ser no negrume do esquecimento, e nos avisam que sem o passado nada somos, nada poderemos ser nunca. No seu cosmopolitismo novo-mundista, a autora parte do resgate desse seu ser, dessa sua ancestralidade de portuguesa atlântica não só para se reafirmar entre os seus concidadãos do país em que lançou novas raízes, como ainda para para a descoberta do resto do nosso país e do vasto mundo lusófono. Numa viagem ao Brasil sulista de Santa Catarina ela experimenta o melvilleno choque de reconhecimento perante os que em sua frente lhe falam da mítica açoriana das suas origens. A nossa literatura, diga-se ainda, é o nosso mais duradouro testemunho de como estamos verdadeiramente em casa no mundo, ou como o nosso inevitável regresso se torna a luz que nos faltava antes da partida, o que era cerco sufocante é depois o ponto primeiro da nossa outra saudade.
“Saltam-me as lágrimas – escreve num texto sobre uma “saudade” doentia por um arquipélago outrora de miséria e escuridão, num encontro com certa audiência numa Casa dos Açores – aos olhos. Exijo que a saudade chorosa seja por eles, pelos esquecidos. Quanto ao resto, paremos com as vitimizações. Deixemo-nos de sagas migratórias, que, conscientes ou não, levam consigo a ilharias, de baladas melancólicas, tristes, nutridas por uma saudade afligida. Passemos a celebrar a nossa modernidade, a nossa hibridez em que a saudade se transforma de acordo com as circunstâncias. Nem sempre a saudade chora. Por vezes, pondera, aprecia, celebra. Pondera o nosso espírito empreendedor, corajoso. Aprecia a nossa reinvenção. Celebra a nossa reconstrução… Confia nos jovens, nos que deram o salto, que, conscientes ou não, levam consigo a ilha. Que integrem no seu dia-a-dia, nos seus afectos. Que a (re)interpretem e que a (re)criem de acordo com a hibridez das suas circunstâncias”.
AndarIlha: Viagens De Um Hífen é este constante acto dialógico entre textos e realidade, entre o passado e o presente, entre as várias gerações que fazem e vivem a açorianidade ou a portugalidade em toda a parte, deixando de ser um outro para assumirem, sem complexos nem conflitos sentimentais, a sua condição, neste caso de luso-canadianos, e, por inferência, luso-com o restante espaço a ser preenchido conforme o seu outro país. Passamos da denúncia de um pequeno mundo a meio-atlântico que nos magoou e escorraçou durante séculos de abandono, reduzido a preces ao Divino, à integração racional e consequente numa das mais modernas metrópoles do mundo, que é Toronto & Arredores. Certas linguagens aqui, inclusive nos dois textos escritos em inglês, poderão ser interpretadas como uma catarse ou confronto metafórico com esse passado, como que num gesto de recuperação, e nunca rejeição, e em que a modernidade o reintegra nesse equilíbrio a meio da ponte, o nosso novo ser em viagem perpétua entre dois ou mais mundos, livres de fronteiras mais imaginárias do que reais. Trata-se, uma vez mais, de um conjunto de textos literários admiráveis que, lidos em sequência, constituem um vivo e ao mesmo tempo sereno diálogo com os seus leitores, não em busca de uma síntese cultural qualquer, mas sim clamando pela convivência inteligente e frutífera entre o cá e o lá. São páginas celebratórias de uma renovada ou nemesianamente replantada açorianidade noutras geografias e noutros viveiros.
______
Maria João Dodman, AndarIlha: Viagens De Um Hífen, Ponta Delgada, Letras Lavadas Edições, 2016.
Publicado na minha coluna “BorderCrossings” do Açoriano Oriental de 24 de Julho de 2016.