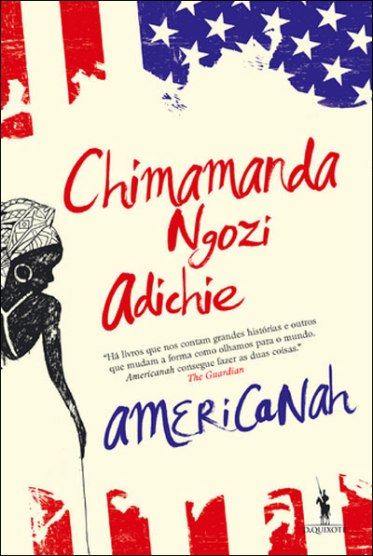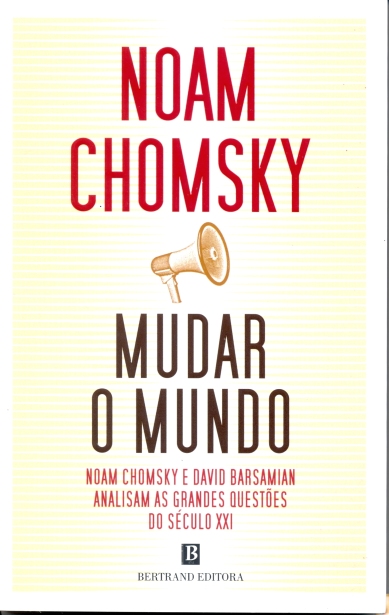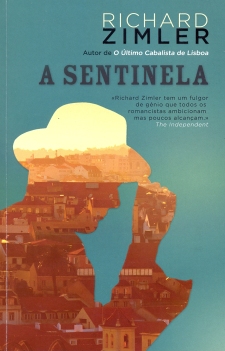Todos nós temos o nosso momento de iniciação à Sociedade de Ex-Negros. A minha foi numa aula da faculdade, quando me pediram que apresentasse a perspectiva de uma negra, só que eu não fazia ideia do que isso fosse.
Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah
Vamberto Freitas
Americanah é um romance que possivelmente intimidará alguns leitores (com as suas setecentas e doze páginas na tradução portuguesa) neste que é o tempo de mensagens curtas e palavras abreviadas em textos monossilábicos e partilhados instantaneamente. Ninguém se arrepende de não ter desfrutado do que não conhece, e bem sei que as nossas escolhas literárias são abundantes, cada qual justificada pelos mais variados interesses, gostos, ou ainda as obrigações profissionais de cada um de nós. Nascida em 1977 na Nigéria, Chimamanda Ngozi Adichie tem como tema principal a sua experiência de vida entre os seus, e depois a sua chegada e residência nos EUA dos nossos dias. A América precisava de uma voz assim: penetrante ante as suas virtudes duradouras e mitos, e sobretudo ante as suas hipocrisias ou contradições. Chimamanda Ngozi Adichie, escritora negra ou africana? Escritora, sem mais, grande escritora. É dignificante para nós todos ver uma autora de tal calibre olhar de frente e sem complexos as relações humanas num outro mundo que já está aí, renasce diariamente, provocando-nos as mais inesperadas vertigens de pensamento, medos, mas também a felicidade de não sermos estrangeiros em parte alguma, mesmo que certas forças políticas e económicas traiam o melhor da humanidade, tentem uma nova escravidão por via de ideias e ideologias ressuscitadas para justificação do roubo constante, para cimentar o domínio de novas elites sobre todos os outros. Americanah, diga-se, não entra por aqui, é arte literária como já só raramente acontece, mas entro eu – raça e racismo são vistos nestas páginas com ironia e humor, a protagonista de nome Ifemelu movendo-se de cabeça erguida entre os que eventualmente a olham ou a olhariam de lado, entre os seus pares, quer de raça ou etnia, quer nos meios intelectualizados que ela frequenta, ou sofre.
Desde há muito que alguma da melhor literatura em língua inglesa vem das ex-colónias do Ocidente, a literatura criada pelos que eram olhados como escravos, ou, pior ainda, como sub-seres humanos, antes mesmo de Salman Rushdie, mas por este e pelas novas gerações consolidada. A riqueza de qualquer língua vem pela sua abertura a todas as culturas do mundo, vem precisamente da osmose com outras línguas, mesmo as que estão reduzidas a pequenos, marginalizados ou esquecidos grupos espalhados pelo nosso globo. Não será só o enriquecimento vocabular, será sobretudo a sintaxe inovadora só permitida pela “interferência” positva de outros idiomas e das visões do mundo que delas partem, sobressaindo em primeiro plano não as diferenças mas, sim, a universalidade do coração humano, dos seus desejos, dos seus medos, dos seus sonhos. A construção formal deste romance tanto tem de narrativa linear tradicional como se rege pelos novos meios de viagens transfronteiriças e pelas comunicações instantâneas a que estamos todos sujeitos. Cada personagem é vista no seu meio ambiente natal, e observada e comentada de igual modo quando se torna o Outro no processo de assimilação de novos modos de estar, pensar e falar. Quando se responde pela arte pura aos antigos impérios e aos seus discursos enviesados pela ignorância ou maldade generalizada, só das margens parte a humanização de nós todos – não são gritos de acusação estes quadros literários, são quase sussurros amigáveis, ora cómicos ora de seriedade, de auto-contemplação, a reivindicação de uma voz própria a que qualquer indivíduo ou grupo tem direito. A autora não se refugia na vida e estatuto privilegiado da classe média nigeriana de onde é originária, não ignora o outro lado da fronteira entre cidade, vila ou mato – descreve-os como sendo parte do seu ser, da sua dor, da sua fatalidade. O amor aqui não tem cor ou etnia – tem desejo, tem alma, tem dor, tem felicidade, tem certezas e tem enganos. Ifemelu não aceita que lhe digam que ela é diferente dos seus por ser linda e bem formada, por ter projectos de vida em tudo iguais aos de outros americanos – ri-se quando pretendem que não a olham como ela é, agora num país em que, afirma a narradora a dada altura, há cinquenta anos faria Barack Obama sentar-se na parte de trás do autocarro, ou ainda hoje para na estrada ou numa rua de bairro um cidadão por simplesmente este ser preto. Ifemelu nada cobra a ninguém, mas não se deixa enganar pela hipocrisia dos que fazem por não ver a cor da sua pele, o sotaque do seu linguarejar, o arranjo do seu cabelo – espera respeito pela diferença, ou então melhor será não ouvir o que da sua boca poderá sair serenamente. Ifemelu não é perfeita no seu modo de vida, nem nos seus sentimentos – é humana, e só isso, em busca do seu lugar na sociedade, dos seus prazeres, do amor na e fora da cama, ou pelos seus mais chegados. Em suma, Ifemelu somos nós todos. A grande literatura, como escreveu num dos seus livros o crítico Harold Bloom, a literatura de génio, é também aquela que pensamos ser sobre nós mesmos, não lemos sobre uma personagem fictícia — lemo-nos. O romance movimenta-se entre a Nigéria, América e Londres. A protagonista, como parte da estrutura do romance, cria um blogue intitulado deliciosamente “Compreender a América para o Negro Não Americano”, onde disserta, provoca e responde sobre a questão racial naquele país, tudo visto por uma mulher que só se torna consciente da cor da sua pele, da sua “diferença”, numa sociedade para quem a cor dos seres humanos foi historicamente decisiva, a todos os níveis e em todas circunstâncias sócio-políticas e culturais.
“Os americanos – escreve Ifemelu numa entrada denominada ‘Tribalismo Americano’, depois de afirmar que na América contemporânea o tribalismo está vivo e de saúde – partem do princípio de que toda a gente compreende o seu tribalismo. Mas demora algum tempo a apreender tudo. Por isso na faculdade tivemos a visita de um palestrante, e uma colega da turma segredou a outra ‘Oh, meu Deus, ele parece tão judeu!’ com um estremecimento, um estremecimento de facto. Como se ser judeu fosse uma coisa má. Não percebi. Tanto quanto eu via, o homem era branco, não muito diferente da própria colega da turma. Judeu, para mim, era algo vago, algo bíblico. Mas aprendi rapidamente. Sabem, na escala de raças da América, judeu é branco, mas também alguns degraus abaixo de branco. Um pouco confuso…”
De resto, Americanah (nome que os nigerianos a chamam depois do seu regresso ao país natal) é muito mais do que tudo isto, tem dentro de si alguns dos temas principais da grande literatura desde sempre, a vida em família e entre amantes, a busca, forçada pelas circunstâncias de se estar numa sociedade que não a sua, de identidade, e sobretudo distingue-se pelo que Edmund Wilson um dia disse ser os “valores comparados/comparative values”, que devem guiar toda a escrita artística que se debruça sobre a condição humana num dado tempo e lugar. Algumas das passagens mais hilariantes deste romance acontecem na tentativa de Ifemelu perceber a natureza dos relacionamentos amorosos – com o antigo namorado que deixa no seu país quando parte para o outro lado Atlântico, com um anglo-saxónico vindo da tradição patrícia e se apaixona por ela durante algum tempo, quando vive com um professor afro-americano da Universidade de Yale. Ifemelu resiste a tudo, mas não à força das raízes. Anos depois de ter conquistado um lugar de conforto para si naquela sociedade, decide regressar à terra natal. Pode-se voltar a casa? Pode-se, mas nem ela nem nós seremos já os mesmos. A saudade vira agora ao contrário, os defeitos e virtudes, a divisão entre todos permanece, toma outras formas, os que têm e não têm, os que mandam e os que são mandados.
Americanah, pois, é sobre uma africana nossa contemporânea. Vezes sem fim, no entanto, apanhei-me a sublinhar certos passos, com um sorriso na cara: tal qual entre nós portugueses de ida e volta, pensava eu, quase as mesmas linguagens acertadas e desacertadas sobre um país e o outro. Mesmo que não se desse este meu choque de reconhecimento, estive perante um dos maiores romances dos nossos dias. Vale por si, experiência e saber dos leitores à parte. Entendo agora a razão que levou o New York Times a escolhe-lo como um dos melhores romances de 2013 nos EUA, e a receber o Chicago Tribune Heartland Prize. Este é o seu terceiro livro, tendo publicado antes ACor do Híbisco (2005) e Meio Sol Amarelo (2007), ambos também largamente premiados.
_________
Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah (tradução de Ana Saldanha), Lisboa, D. Quixote, 2013.Li a versão original em inglês, mas as traduções aqui foram tiradas da edição portuguesa.